Formas nominais – O que são? Quais são? Infinitivo, Gerúndio, Particípio e Exemplos
São três as formas nominais do verbo: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Neste artigo do Gestão Educacional, você aprenderá o que são formas nominais e no que consiste cada uma delas, de forma bem detalhada e cheia de exemplos. Sem mais delongas, vamos às explicações!
Formas nominais: o que são?
As formas nominais são tipos especiais de conjugação do verbo. Diferentemente do que ocorre no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, em que o verbo sofre flexões de tempo e modo, nas suas formas nominais, o verbo não sofre flexão nem de tempo nem de modo.
Quando lemos, por exemplo, o seguinte verbo: “andei”. Lendo apenas ele e nada mais, já podemos tirar algumas conclusões: trata-se da primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Como chegamos à essa conclusão? Porque o verbo em questão apresenta a desinência -ei, que indica justamente isso daí. Ou seja, a partir da desinência do verbo podemos identificar o tempo (pretérito perfeito), o modo (indicativo) e mais algumas informações, como o número (singular) e a pessoa (primeira pessoa).
Agora, se lermos o seguinte verbo: “andando”. O que poderíamos concluir? Apenas que o verbo em questão está na forma nominal do gerúndio.
Apenas por ele, não conseguimos determinar nem o tempo nem o modo, pois ele pode aparecer, sem sofrer alterações em sua estrutura, como:
- Tiver andado (futuro do subjuntivo composto);
- Terei andado (futuro do presente do indicativo composto);
- Tivesse andado (pretérito perfeito do indicativo composto);
- Tinha andado (pretérito mais-que-perfeito composto).
Isso porque, nas formas nominais (e o gerúndio é uma das formas nominais do verbo, como veremos), o tempo e o modo dependem do contexto em que o verbo aparece. Só conseguimos determinar, por exemplo, que “tiver andado” está no futuro do subjuntivo pelo uso do verbo “ter” conjugado no futuro do subjuntivo. O verbo no gerúndio, por si só, não nos permite tirar essas conclusões, uma vez que não expressa nem tempo nem modo.
Quais são as formas nominais do verbo?
São três as formas nominais do verbo: o infinitivo, o gerúndio e o particípio.
Infinitivo
O infinitivo expressa a ação de forma genérica, sem especificar o modo ou o tempo, indicando a ação em si ou a ideia por trás da ação, o que faz com que ele se aproxime do papel que um substantivo exerce.
Na língua portuguesa, o infinitivo é o lema (ou lexia), ou seja, a forma canônica/principal do verbo. Nos dicionários, por exemplo, os verbos são listados em suas formas no infinitivo. Outro exemplo é o fato de definirmos a vogal temática de um verbo analisando a sua forma no infinitivo.
O infinitivo pode ser:
- Infinitivo impessoal: quando o verbo está em sua forma invariável, sem indicar uma pessoa em particular.
- Exemplos: Andar, jogar, vender, conhecer, sorrir, mentir etc.
- Comer frutas faz bem à saúde.
- Exemplos: Andar, jogar, vender, conhecer, sorrir, mentir etc.
- Infinitivo pessoal: quando se acrescentam desinências à forma do infinitivo para especificar uma pessoa em particular. As desinências são acrescentadas da mesma maneira que no futuro do subjuntivo, o que faz com que ambos os tempos sejam confundidos.
- Exemplos: por andar eu, por andares tu, por andar ele, por andarmos nós, por andardes vós, por andarem
- Você ficou chateado por faltarmos (nós) na aula ontem?
- Exemplos: por andar eu, por andares tu, por andar ele, por andarmos nós, por andardes vós, por andarem
- Infinitivo impessoal composto: formado pelo infinitivo impessoal do verbo “ter” mais o particípio do verbo principal.
- Exemplos: ter andado, ter jogado, ter vendido, ter conhecido, ter sorrido, ter mentido.
- Ter faltado ontem trouxe-me problemas.
- Exemplos: ter andado, ter jogado, ter vendido, ter conhecido, ter sorrido, ter mentido.
- Infinitivo pessoal composto: indica um fato passado já concluído, formado pelo infinitivo pessoal do verbo “ter” mais o particípio do verbo principal.
- Exemplos: por eu ter andado, por tu teres andado, por ele ter andado, por nós termos andado, por vós terdes andado, por eles terem andado.
- Quais serão as consequências por eu ter faltado ontem?
- Exemplos: por eu ter andado, por tu teres andado, por ele ter andado, por nós termos andado, por vós terdes andado, por eles terem andado.
Gerúndio
O gerúndio indica ações ainda em processo, ou seja, prolongadas ou em desenvolvimento, e é formado pelo acréscimo da desinência -ndo ao verbo. Na oração, ele exerce um papel equivalente aos papéis exercidos pelos advérbios ou adjetivos.
São várias as funções do gerúndio, como indicar uma circunstância adverbial (causa, tempo, modo etc.), fazer o papel de um adjetivo, como predicativo ou aposto do sujeito, dentre outras.
O gerúndio pode ser:
- Simples: indicando uma ação ainda em desenvolvimento, ainda não concluída, sendo formado pelo acréscimo da desinência -ndo ao verbo.
- Exemplos: andando, jogando, vendendo, conhecendo, sorrindo, mentindo.
- Estudando para a prova, Miguel percebeu que ainda não sabia nada da matéria.
- Exemplos: andando, jogando, vendendo, conhecendo, sorrindo, mentindo.
- Composto: indicando uma ação prolongada, em uma oração subordinada, já concluída antes da ação do verbo da oração principal. É formado pelos verbos auxiliares “ter” ou “haver”, conjugados no gerúndio (“tendo” ou “havendo”), seguidos do particípio do verbo principal.
- Exemplos: Tendo andado, havendo jogado, tendo vendido, havendo conhecido, tendo sorrido, havendo mentido.
- Tendo estudado para a prova, Miguel foi dormir.
- Exemplos: Tendo andado, havendo jogado, tendo vendido, havendo conhecido, tendo sorrido, havendo mentido.
Particípio
O particípio, por sua vez, indica o resultado/a conclusão do processo verbal. Ele é usado nos tempos verbais compostos e na voz passiva. Alguns linguistas consideram a existência de dois particípios: particípio presente e particípio passado. Porém, como a maioria deles reconhece a existência apenas de um no português contemporâneo, o particípio passado, é dele que trataremos aqui.
Na oração, o particípio pode desempenhar papel de substantivo, adjetivo ou advérbio, podendo até mesmo receber a desinência -a (de feminino) e a -s (de plural). Apesar disso, ele nunca se flexiona em pessoa.
Alguns verbos podem ter mais de um particípio: um curto (irregular) e um longo (regular). Verbos que possuem dois particípios são chamados “verbos abundantes”. É o caso, por exemplo, de “gastar”, que tem como particípio curto “gasto” e longo “gastado”.
O que determina o particípio a ser escolhido é o verbo auxiliar. Quando o verbo auxiliar é “ser” ou “estar”, em voz passiva, o particípio precisa ser o curto/irregular (“O meu sapato já estava gasto”). Já quando o verbo auxiliar é “ter” ou “haver, o particípio precisa ser o longo/regular (“Eu tinha gastado 100 reais”).
O particípio curto, chamado regular, possui a terminação -ADO ou -IDO. Confira os exemplos:
- Jogado, andado, sondado, vendido, lido, cedido.
Já o particípio longo, chamado irregular, não possui terminação específica (o que o torna “irregular”). Veja alguns exemplos:
- Dito, limpo, gasto, enganado, entregue, visto.





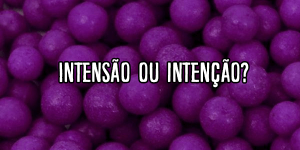


Deixe seu comentário